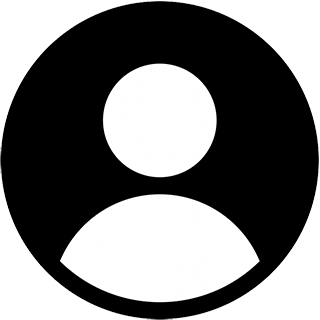Minha estreia no SXSW foi tardia. A sensação que tive, ao pisar em Austin, meca da contracultura americana, capital global da música ao vivo e, desde 1987, home do maior festival de inovação do mundo, foi de um tipo de FOMO (Fear of Missing Out) por todos os anos que eu perdi – e bote aí pelo menos os últimos dez anos. De cara me perguntei: onde é que eu estive, afinal de contas, todo este tempo? De alguma forma, apesar da estranheza com o gigantismo do evento, espalhado por algumas quadras de Austin, me senti imediatamente em casa. Tênis e mochila foram meus companheiros inseparáveis durante sete dias e meus olhos brilharam de encantamento o tempo todo. O SXSW é um festival que parece falar (também) de empresas, de marcas, de negócios, de tecnologia, de tendências, de futuro. OK, fala de tudo isso, sim, mas por um viés que toca a todos de maneira especial: o das pessoas, que estão, confortavelmente, no centro da equação. Respira-se tecnologia, cultura, arte e comportamento, em torno da busca por uma vida com mais sentido, mais autêntica, mais coerente com os nossos verdadeiros desejos, mais criativa.
Não por acaso, os temas que permearam muitas das discussões foram empatia, humanidade, vulnerabilidade, autenticidade, diversidade, sustentabilidade, tolerância. Através desses sentimentos, se acessa o ser humano real que existe em cada um de nós. No SXSW, criatividade não é tema, é pré-condição para existir no mundo. Parte-se do princípio que tudo evolve a partir e ao redor dela, da criatividade, e a inovação, as boas ideias, estão por toda parte, escancaradas e despretensiosas. Andando para lá e para cá, numa espécie de “chão de fábrica”, como alguém bem definiu, esbarra-se com palestras, vivências, bate-papos, workshops, mentorias, exposições e experiências que emocionam, fazem pensar, e tocam em algo dentro da gente. Não se trata exatamente de levar para casa uma tendência, uma tecnologia, uma ideia de produto. Se trata de voltar para casa repensando a própria vida, o jeito de se relacionar com as pessoas no plano pessoal e no profissional (possivelmente reavaliando os murinhos que construímos entre um e outro). A vivência em Austin provoca uma reflexão muito mais interna, de estranhamento e susto consigo mesmo, com o jeito com que se está tocando a própria vida, as próprias escolhas, o propósito em tudo o que se faz, a postura no mundo, a relação com a tecnologia. Por sinal, a provocação do analista digital Brian Solis sobre o uso excessivo das redes sociais pegou no estômago de muita gente, inclusive no meu. Por outro viés, o analista e escritor Douglas Rushkoff provocou a reflexão sobre como a tecnologia passou a nos usar, no lugar de ser usada, e no lugar de ser humanizada, está nos transformando em maquininhas rasas e repetitivas.
Desconforto e estranhamento vêm daquilo que toca direto na alma, sentimentos necessários e vetores das verdadeiras mudanças. São o “call to action” para agir, no mundo real. Começar por transformar a si mesmo é o passo mais difícil, mas também o mais interessante de todos. O sinal vermelho está aceso, e temos a opção de abaixar a cabeça e continuar dedilhando a tela do celular, assistindo a momentos alheios e buscando algum tipo de validação no mundo. Ou podemos desconectar, pelo menos até o ponto de passar a viver como se ninguém estivesse olhando, como propôs Solis. E o que ele está realmente sugerindo é a reconexão com a própria individualidade. É recobrar o brilho nos olhos (e não nas telas), reacessar os desejos que fazem o coração bater, reaprumar a direção para as nossas verdadeiras metas – aquelas que procrastinamos tanto, porque exigem foco e concentração. Fechar tantas abas que mantemos abertas, o tempo todo, pode ser o primeiro passo para viver uma vida mais criativa.