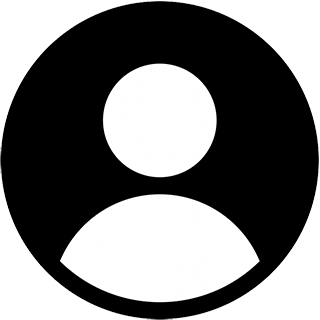Em março de 1968, um navio saiu de Baltimore carregado de sintetizadores e teclados elétricos Korgs, Moogs e Hammond.
O destino era o Rio de Janeiro, mas a embarcação nunca chegou aqui. Reapareceu, meses depois, na ilha de São Nicolau, em Cabo Verde. A tripulação havia desaparecido e a carga fora confiscada pela polícia local.
E essa seria mais uma história de navio fantasma se o revolucionário Amílcar Cabral não tivesse decretado que os instrumentos fossem distribuídos pelas escolas do local. Do dia para a noite, crianças passaram a ter acesso a equipamentos de ponta e sons inteiramente novos.
O resultado foi um movimento musical com pegada afro-cubana eletrônica, o Space Echo (lembra o brega paraense dos anos 2000 ou o jazz etíope de Mulatu Astatke).
A inspiração é uma mistura maravilhosa de referências estranhas com uma pitada de acaso. Desconfio do lampejo genial contado a posteriori, como a maçã no é cocoruto de Newton ou a tinta jorrada em três semanas por (Jack) Kerouac em On the Road. A obra de ambos é brilhante. O problema está na crença do milagre da criação. Tampouco sou adepto dos 90% de transpiração do (Carlos) Drummond (de Andrade).
Sou obrigado a concordar com Kerby Ferguson quando fala que tudo é remix e muitas vezes é o remix do remix. Originalidade é um treco que acreditamos que existe quando esquecemos de onde veio o sample.
Consumo o Simbolismo de Rimbaud tanto por meio dos versos proféticos de (Bob) Dylan em Highway 61 Revisited quanto pelas cantorias de Elomar. Aprendi que “o primeiro acorde nunca está errado, desde que seguido de outro que o preencha com Miles Davis”. Palavras de Herbie Hankock, que ouvi numa palestra online de Harvard, que por sua vez me chegou como indicação pelo YouTube, após ver um vídeo sobre biohacking…
Música e gastronomia, aliás, são campos férteis para a minha inspiração em geral. Costumo cozinhar ideias em fogo lento por muito tempo, fazer uma sujeira do cacete e misturar memórias ímpares e editadas que não sei exatamente de onde vieram. É algo que me serve para tocar numa JAM ou para executar um projeto de inovação corporativa. Tanto faz.
Quando vivi em Jerusalém conheci o Ras el Ranout, tempero marroquino formado por 17 condimentos. Significa “O melhor da loja”. Não existe um que seja igual ao outro, cada mercador faz o seu. Empreender um negócio ou criar um produto é como fazer Ras el Ranoult ocidental. Só que leva mais tempo.
Adquiri o hábito de postar ideias de negócio nas redes sociais. Vai que um amigo botânico ouve falar de blockchain e tem um insight sobre dança flamenca?
Dividir o conhecimento e as experiências humanas em caixinhas é mesmo uma bobagem e diminui a chance de surgirem boas ideias por aí. Entre os que não acreditam nas caixinhas, admiro Joi Ito com o Creative Commons e tudo o que anda fazendo o MIT Media Lab: computação afetiva, ficção do design e ciência das cidades.
O conhecimento de fato nasceu para ser livre e o movimento open source tem tido um papel sensacional nessa luta.
Criar é sempre um ato militante. Decidir que referências ingerimos determina o que teremos a possibilidade de criar e, logo, o que existirá amanhã. Tenho lido sobre Big Data, ouvido Space Echo e evitado os alarmistas do Facebook, não necessariamente nessa ordem. A gente tende a pensar nas invenções como coisas proprietárias, intimamente ligadas à nossa capacidade e ao nosso mérito. Na verdade, somos veículos de uma série de possíveis adjacentes do nosso tempo. As inovações? Vão aparecer em qualquer canto, de todo jeito.

Herman Bessler é empreendedor e diretor das incubadoras Rio Criativo
Leia mais
Inspiração: Autobiografia, direto de Londres
Inspiração: Mulheres e suas ricas experiências