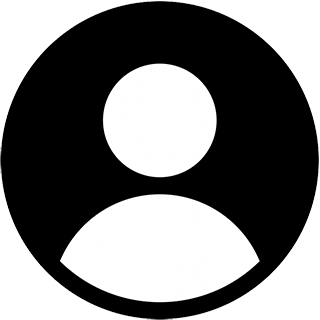Num fim de tarde de dezembro de 1980, entrei pela primeira vez no recinto do quinto andar da DPZ. Até então não havia passado da salinha de reunião, que ficava logo à saída do elevador, onde o Washington e o Nelo Pimentel haviam me entrevistado uma semana antes. O salão estava vazio.
Pelas janelas que se estendiam de uma ponta a outra do andar, descortinava a cidade mítica, sob um céu cor de chumbo. Nisso, entra um sujeito baixinho a quem conhecia de foto, um dos três seres encantados da propaganda, venerados desde a minha Porto Alegre, onde dei meus primeiros passos na profissão.
Eu tinha espiado de canto de olho, contido pela timidez e escutei às costas: você mora em São Paulo? Assim mesmo, sem um boa tarde nem um como vai. Surpreendido pela pergunta inusitada, mas intimista, respondi com a sinceridade dos meus 20 e poucos anos: não. Foi a deixa para ele exercer plenamente o papel de dar a boa nova: mas vai morar. Minutos depois, contratado para trabalhar no templo mais sagrado da criação publicitária, atravessei a Avenida Cidade Jardim, carregando a mala com que tinha vindo do aeroporto.
E desabou a tempestade. Os pingos sucessivos e violentos tamborilavam sobre a minha cabeça e lavavam o meu rosto. Não era chuva. Era champanha. São Paulo comemorava comigo a maior conquista que um criativo poderia alcançar. Não sei como, acabei chegando, encharcado, no quarto que alugara no Paraíso. Passei a noite em claro, excitado pela estreia que se daria na manhã seguinte. Hoje, revendo aquele momento, me surpreendo em perceber que não fui tomado pelo pânico, que não temi a convivência com personagens que povoavam a mídia especializada, aguçando a imaginação de jovens aspirantes a criativos: como viveriam? Do que se alimentariam? O que leriam? Não! Eu não temia, mas ansiava por ocupar logo o posto, assumindo que era ali o meu lugar, por natureza.
Era um criativo, afinal – quase 40 anos passados, noto até certa falta de humildade – e parecia evidente que um afluente criativo corresse para o mar da criatividade. Talvez por alimentar essa convicção, comecei a
trabalhar na DPZ como se ali sempre estivesse. Sem presunção, mas com a segurança de que falava a mesma língua, embora consciente de que me faltava um tanto do vocabulário.
O mais importante, porém, nos identificava: a alegria de criar. A tensão que se dava não era no sentido de “será que eu consigo?”, mas “qual dessas opções será a que rende mais?” Porque as ideias vinham aos borbotões, estimuladas pelo meio propício, inspirador, pela saudável exigência de sermos indiscutivelmente os melhores. Tudo conspirava para, na pior das hipóteses, pecarmos por excesso.
E eu pequei muito por excesso – chego a ficar vexado por algumas propostas criativas de que me recordo, mas elas sempre eram aprovadas por decisores movidos à transgressão, mesmo que à frente dessem com os burros n’água. Mas o que importava? Naquela fase da minha vida profissional, o que valia era a atitude criativa, era não reprimir mesmo aquilo que parecesse absurdo, era jamais sonegar as ideias, aliás, o único crime imperdoável daquele que recebera o privilégio de estar ali. Enfim, não era difícil ser criativo e ser feliz.
Stalimir Vieira é diretor da Base Marketing (stalimircom@gmail.com)