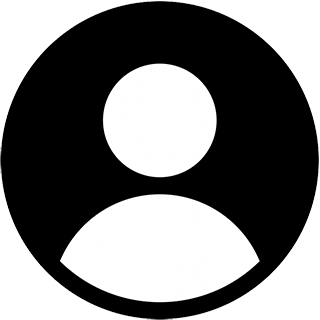Estou lendo, deliciado, o livro de Alberto Villas Onde foi parar nosso tempo? É daqueles que a gente torce para que não acabe. Villas é um jornalista, atualmente na TV Globo, dono de um texto envolvente. São lembranças de sua infância e juventude, contadas sem melancolia, mas que nos transporta para um tempo que passou de forma bem-humorada e terna. Neste livro a grande pergunta é exatamente essa: o que nós fizemos com o tempo que ganhamos graças à tecnologia? O que estamos aproveitando com os minutos, as horas, que perdíamos esperando o telefone dar sinal, apontando lápis, engraxando sapatos, esperando a TV esquentar, rebobinando fita de VHS? Hoje num mundo mais rápido, tudo é instantâneo e era de se supor que esse tempo poupado seria investido em coisas mais úteis, prazerosas, enriquecedoras.
O livro não encontra respostas, mas a lembrança do tempo que ficávamos lavando cachorro, dando corda no relógio, escrevendo cartas é deliciosa e incentiva a recordar outras atividades que desapareceram com a tecnologia e – pensando bem – não eram tão chatas como imaginávamos. Eu, por exemplo, me lembrei de nossa profissão quando comecei a trabalhar. Naquela época, por exemplo, produzir um simples anúncio para jornal pedia uma quantidade de providências e materiais – ou seja: tempo. Os títulos eram escritos a mão por letristas especializados (“puxar letras” era o jargão). O corpo do texto (chamávamos de copy) era encomendado para uma gráfica que compunha letra por letra, para fazer o que era chamado de Glacê. A ilustração ou foto era encomendada para os fornecedores externos. Horas ou dias depois chegavam, trazida por mensageiros, os materiais: o glacê do copy, as letras do título, a ilustração ou a foto, as reproduções das marcas. Entrava em cena o montador, que, munido de uma faquinha Olfa, ia recortando aqueles materiais todos e montava num cartão besuntado de cola de sapateiro.
Depois da arte-final, era coberta por uma folha de papel manteiga e enviada para a clicheria. Antes, porém, passava pelo revisor e pelo diretor de arte que sobre o papel manteiga indicava que tipo de intervenção deveria receber cada uma das partes do clichê: os pontos da retícula, o tratamento das áreas em traço e assim por diante. Horas depois vinha o clichê, que era novamente revisado e enviado para o jornal. Naquele tempo, jornal recebia anúncios no balcão. A edição de domingo do Estadão, por exemplo, era fechada às cinco da tarde da sexta. Ou seja: as agências que quisessem entrar no jornalão de domingo deveriam entregar os clichês até às cinco na Rua Major Quedinho. Não havia tolerância.
O diretor comercial do Estadão era um senhor chamado José Maria Homem de Montes, que não dava a menor colher de chá para anunciante nenhum. Para se ter uma ideia, a revista Propaganda perguntou uma vez para ele por que o Estadão não tinha representantes (ou “contatos”). Ele respondeu: “tudo que ‘O Estado’ tem a dizer para as agências está impresso na nossa tabela de preços”. Eu tenho esse número da revista Propaganda – não se trata de lenda. Se uma agência reservasse um espaço no jornal e o boy não conseguisse chegar a tempo com o clichê, o espaço saia em branco com um texto: “espaço reservado para a agência tal”. E a fatura era expedida. E seria paga, pois um único dia de atraso significava o corte imediato do crédito. E uma agência sem crédito no Estadão, no Jornal do Brasil, no Correio da Manhã, na Folha, não existia. Um comercial de TV filmado significava captar as imagens, revelar o filme, montar o copião na moviola, montar o negativo, colocar o som, fazer a primeira cópia, corrigir a cor, mandar para a “truca” para fazer os efeitos e colocar a assinatura. Tudo isso em 35 milímetros.
Como a TV trabalhava com 16 milímetros, aprovada a cópia em 35, era preciso encomendar as “reduções” para aquela bitola. Uma cópia para cada inserção do dia. E revisar tudo isso antes de enviar para a emissora. Ainda por cima era necessário encomendar os serviços de uma empresa chamada TV Fiscal, que conferia se a “estação” transmitia o comercial nos horários comprados. Havia no departamento de mídia da Thompson um cidadão chamado de sr. Assunção, que andava de carro em todas as rodovias do Brasil para observar se os painéis de estrada eram devidamente exibidos. Estou falando sabe de que ano? Anos 1960! Pouco mais do que anteontem. Hoje a gente – em tese – pode fazer um anúncio em duas horas, um comercial em dois ou três dias e nem existe mais profissões como o montador de anúncio, o letrista, o arte-finalista. Ganhamos tempo, diminuímos despesa com pessoal. Somos aparentemente mais rápidos, mais eficientes. Deus que me perdoe o lugar-comum. Mas estamos sendo mais felizes?
Lula Vieira é publicitário, diretor da Mesa Consultoria de Comunicação, radialista, escritor, editor e professor