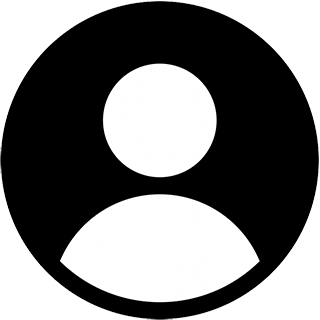Estou lendo um livro muito bom. “Rio Negro, 50”, de Nei Lopes. É a história do Rio de Janeiro da década de 1950, contada por personagens negros e mulatos. Com uma trama romanceada, mas passando por lugares e personagens reais, Nei Lopes narra a realidade de um Brasil que se acredita cordial e afetivo, mas que esconde também um lado repleto de intolerância, violência e preconceito.
Estou lendo um livro muito bom. “Rio Negro, 50”, de Nei Lopes. É a história do Rio de Janeiro da década de 1950, contada por personagens negros e mulatos. Com uma trama romanceada, mas passando por lugares e personagens reais, Nei Lopes narra a realidade de um Brasil que se acredita cordial e afetivo, mas que esconde também um lado repleto de intolerância, violência e preconceito.
Preconceito que aflora em opiniões soltas nas ruas, apelidos supostamente carinhosos, coros de torcida de futebol, mas que às suas vítimas doem como tapas na cara. É bem verdade que Nei, intelectual negro e profundamente identificado com as lutas de sua gente, dá destaque especial ao sofrimento dos negros, embora eu ache que, sem querer diluir a importância do problema da negritude, o preconceito existe contra tudo e contra todos: pobres, deficientes, gordos, homossexuais.
E, pensando bem, às vezes contra pessoas da classe média (coxinhas) e até ricos (necessariamente ladrões), embora nesses casos seja possível ir curtir a dor à beira da piscina do condomínio, em Paris ou Orlando.
Nesses lugares, dói menos, sem dúvida. Me perdi, desculpem. Falava eu sobre o preconceito, que no livro do Nei aparece com sua cara feia nos comentários feitos atoamente numa roda de bar ou explicitamente cada vez que alguém se sente ofendido com o contato com quem é julgado diferente ou desconhecido.
O livro começa com um linchamento no centro da cidade de um rapaz que se parecia com Bigode, o lateral brasileiro que a boataria pós-derrota da seleção brasileira frente o Uruguai, em 1950, apontava como covarde.
Segundo os boatos, além de não conseguir interromper o avanço do ponta Ghiggia, com a bola no lance do gol, ainda teria levado um tapa na cara do capitão do Uruguai, Obdulio Varela.
Bigode era negro, assim como a maioria dos nossos jogadores. E essa foi uma teoria inventada na ocasião para explicar a derrota: a falta de fibra e de qualidade atlética da raça. Muitos daqueles jogadores morreram amargurados pela execração pública. O sósia de Bigode morreu linchado.
Sobre preconceito, Gregório Duvivier conta que um dia teve que visitar um amigo em São Gonçalo, um município da Baixada Fluminense. Ao subir no táxi e dizer o destino, ouviu do motorista: “Mas logo hoje que eu lavei o carro?”.
Semana passada, conversando com uma escritora negra, ela me contou que uma vez, numa repartição pública, teve que fazer uma ficha de identificação e uma servidora veio ajudá-la. Nome, endereço, nascimento, até que a servidora se deteve no quesito “cor”.
A moça é um exemplar perfeito dos afrodescendentes, sua cor é um exemplar perfeito do que a música do tempo de Nei Lopes chamava de “cor brasileira”. Mas, tentando ser simpática, a servidora sorriu e disse: “Vou quebrar seu galho!”. E escreveu no espaço: branca.
Muitas vezes na Espanha fui chamado de “sudaca”, que abrange todos os sulamericanos que, na opinião de alguns espanhóis, vêm deste quintal do mundo onde seus heróis como Cortez e Pizarro tentaram em vão civilizar.
Quando cheguei ao Rio fui morar na Tijuca, bairro que os motoristas de táxi detestam ir, pois geralmente voltam vazios. Os chamados “carros de praça” da época eram os Volkswagens quatro portas chamados “Zé do Caixão”, barulhentos, pequenos, desconfortáveis e – o que era bem pior – sem ar condicionado, o que num Rio de 40 graus dava uma visão bem aproximada do que seria arder no inferno.
Me lembro o dia que, depois de sofrer para me aboletar no banco traseiro do carro, pedi para ser levado à Tijuca. Isso faz uns 40 anos, mas até hoje me lembro do motorista dando um murro no volante e dizendo: “Ser taxista é foda. Num puta de um calor desse, um trânsito filho da puta e ainda tenho que levar esse saco de banha para a Tijuca”. Não fosse minha preguiça em sair daquela lata de sardinha fervente, eu teria trocado de táxi.
Mas até hoje me arrependo de não ter dito para o motorista que é preferível ser saco de banha do que ser pobre e fudido. Ou seja: me arrependo de não ter ganho a guerra do preconceito. Vitória de merda.
* lulavieira@grupomesa.com.br