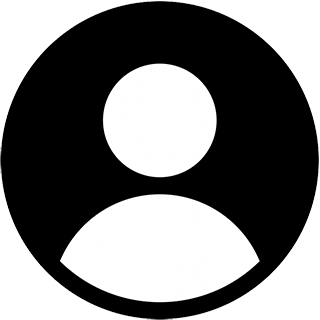Uma das histórias mais românticas que eu conheço me foi contada pelo diretor Oliver Perroy numa longa noite de filmagem, enquanto esperávamos o sol surgir para aproveitar a luz dourada do amanhecer. Falávamos de ídolos, de pessoas que fizeram algo com a grandeza necessária para nos mudar a vida. Ou, ao menos, pensar mais seriamente sobre ela. Perroy me contou essa história, uma das mais bonitas e inspiradoras que ouvi, há mais de 30 anos. Vamos a ela.
Perroy tinha um primo famoso na noite paulista. Um putanheiro desajustado cuja vida torta era uma verdadeira lenda entre os boêmios. Um escroto, chegado a uma farra e ao amor sem compromisso. A sua família eram as putas, os porteiros e garçons de boate, para quem ele destinava todo o seu salário e saúde. Pouco se sabia de sua vida anterior. Do que ele contava, e era muito pouco, sabia-se de uma infância sofrida, um casamento fracassado. O recorrente nessas parcas lembranças eram raros momentos de felicidade durante as férias na casa de um tio, já falecido, numa cidadezinha chamada Sumaré, próxima de São Paulo. De resto, nada mais se sabia dele a não ser que era uma boa pessoa, amarga e cínica pelas porradas da vida, um solitário sofrido. E aí vem o evento ao que me refiro.
Contam as putas que houve uma noite que ele abusou. Na madruga ele foi encontrado quase em coma debruçado na mesa do puteiro. Uma das mulheres resolveu leva-lo para casa, no mínimo para garantir-lhe a vida e um banho quente. Embora tonta de sono, estava suficientemente sóbria para saber que sozinho ele estaria em perigo. Tomaram um táxi e ela deu o endereço de sua casa, no bairro do Sumaré, aninhou-se no banco e dormiu. O motorista tentando fazer graça, perguntou: “Sumaré cidade ou Sumaré bairro?”. Ela dormia. Para ele, as palavras trouxeram embaçadas imagens da infância, um riso alegre de menino e o rosto amigo do seu tio. Respondeu: “Sumaré – cidade”. Para lá o motorista se dirigiu.
Em uma hora, já de manhãzinha, o carro chegou a Sumaré. Desperto pela luz, ele viu a pracinha, a matriz, a casa geminada onde seu tio morava, fazendo esquina com a rua principal. Na casa, uma placa: “vende-se”. De resto parecia tudo igual, até mesmo a velha padaria e seu cheiro de pão fresco que se espalhava pela vizinhança. Também pareciam novos os riscos agressivos de algum grafiteiro sujando os pés da estátua de um ex-prefeito qualquer. Mandou o táxi parar na frente da casa do tio. Bateu palmas. Viu na janela o antigo gesto de espreitar quem chamava da rua através da cortina. Um velho levou algum tempo do outro lado da porta a lutar com muitas fechaduras, que selavam a porta frágil como papelão. Fechaduras que dão a falsa sensação de segurança aos velhos. A puta no carro dormia.
– Pois não?
– Vi a placa de vende-se…
– Sim, está à venda. A casa e a padaria…
– Deixa o negócio?
– E a cidade. Vou morar com a filha e o genro em São Paulo. Depois que minha senhora morreu vivo só, nada mais justifica levantar cedo, fazer pão…
– Quanto quer?
– Pouco. Muito pouco. A cidade se esvazia. Depois apareceram as lanchonetes que destruíram meu negócio. Tento sobreviver. Vendo pão, leite, enlatados. A casa está velha, precisa de reformas. Nada mais vale a pena. A mulher morreu há seis meses.
Fechou negócio ali mesmo. Comprou a casa e a padaria. Atravessou a rua e foi acordar a puta, que ainda dormia no carro. O motorista estava observando o riacho sujo que corta a cidade. – Acorda! Acorda! Olhos grudados, boca seca, ela se espanta com a luz, com o cenário e com o homem que lhe acorda carinhosamente. – Quer casar comigo? Pergunta ele, rosto sério. Meio brincando, meio de verdade, talvez pra se livrar da pergunta, ela responde sem pensar. – Quero! Estão casados há anos. Dizem na cidade que são dois pombos. Passeiam à tardinha de mãos dadas na praça deserta, frequentam a igreja cada vez mais vazia. E vivem rindo, como se a vida fosse muito divertida.
Lula Vieira é publicitário, diretor da Mesa Consultoria de Comunicação, radialista, escritor, editor e professor